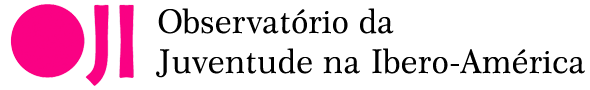Cinco aspectos fundamentais da revolução juvenil de 68
¡Sejam realistas, peçam o impossível!
Tínhamos o mundo inteiro em mente, Uma nova era devia começar conosco...
Tiro de largada! Começam as comemorações com confete e os rituais mediáticos da (des)memória: no dia 3 de maio de 1968, há exatamente 50 anos, a direção de Nanterre, em Paris, decide fechar a universidade por conta dos protestos dos estudantes, aos quais estes respondem tomando a Sorbonne. Às quatro da tarde, entra a polícia pela primeira vez na história da França e ordena o desalojamento completo das instalações, retendo os líderes do movimento de ocupação. Foram as batalhas posteriores na própria Sorbonne e no bairro latino, tudo, como provavelmente apareceu nos meios de comunicação? Foi Paris o epicentro das revoluções? Ah, mas… houve mais? Onde? E nisso tudo, que bicho mordeu esses jovens que tinham tudo em plena Era Dourada da economia mundial? De que estavam reclamando? Neste artigo, trato de dar ao leitor cinco chaves que ajudam a entender o que não foi, mas sim a maior revolução global (social, cultural e também política) da história.
1. 1968, o ano-chiclete e o eterno mito
Vamos começar com uma pergunta que, talvez, pareça boba, mas na verdade não tem nada de boba: Por que 1968? O que torna esse ano tão especial? A resposta mais simples é que adoramos comprimir tudo em um número fácil de memorizar, que nos ajude a mitificar e, ao mesmo tempo, a mistificar os acontecimentos, tornando-os dóceis para a sua posterior manipulação ideológica, política, mediática ou acadêmica.
Um exame detalhado dos diferentes movimentos que começam a alcançar a sua massa crítica já na metade dos anos 60 nos leva à conclusão, com Hobsbawm, de que 1968 “não foi nem o início nem o fim de nada” [1] mas, ao mesmo tempo, de que tanto o antes quanto o depois perderiam o sentido sem os acontecimentos de 68. Não era um acontecimento pontual protagonizado unicamente por jovens, nem um vírus de 24 horas, um repentino ataque de hormônios adolescentes à flor da pele que finalizasse assim que as férias de verão começassem, como pretende a “legenda dourada pós-68” forjada nos anos 80 e 90 [2]. Focamos somente em Paris, como é de costume pela sua especial intensidade e virulência (e pelo seu espetáculo)? O tempo está esgotando somente nas revoltas estudantis? Ainda mais curto. Incluímos o movimento obreiro, sem o qual o movimento estudantil não teria sentido, como destaca o próprio Cohn-Bendit, líder das revoltas, assim como muitos outros, como Sartre [3]?, A coisa começa a se estender. Queremos incluir os primeiros sintomas de conscientização em Berkeley e a sua extensão na metade dos anos 60 pelos Estados Unidos? E na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Bélgica, no Japão, todas elas anteriores a Paris, com datas de arranque anteriores a 68? E a Iugoslávia? E a Checoslováquia, Polônia, México… Por citar só os focos de maior magnitude? Pois se estende ainda mais. Muito mais.
Apenas aviso ao leitor que esteja sempre atento a este dado quando ler ou ver notícias sobre o ano de 68, porque esta é sempre a porta de entrada para um discurso concreto sobre o que realmente sucedeu e que pessoas foram os verdadeiros protagonistas. Porque um pequeno resfriado não dura o mesmo que uma gripe, uma gripe que uma moda passageira, uma moda passageira que uma rebelião e uma rebelião que uma revolução. Não é mesmo? Pois, precisamente, é disso que se trata.
2. A geração Buddenbrook
O leitor se lembra da teoria das cinco etapas do crescimento de Walt Rostow? Não seria nada estranho se fosse assim, dada a sua grandíssima influência tanto no mundo intelectual quanto nas receitas econômicas inspiradas nela, que o FMI e o BM impuseram para centenas de países pelo mundo.
Pelo contrário, o que é realmente estranho é que ninguém se lembre de que o próprio Rostow não falou de cinco, mas sim de seis etapas. Para ele, a suposta perfeição (a qual cedo ou tarde deviam chegar todas as sociedades) atribuída nos manuais de economia para a “sociedade de consumo”, a quinta realmente se encontraria em uma sexta que, embora admita não saber exatamente em que consistirá (o livro foi lançado em 59), intui que pressuporá um novo passo acorde com a dinâmica dos Buddenbrooks, a famosa dinastia da novela de Thomas Mann, na qual as pessoas começariam a esquecer pouco a pouco dos valores sob os quais tinha sido construída a sociedade de consumo, como o dinheiro (primeira geração) ou a obsessão pelo status social (segunda). Elas se entregariam, finalmente, à arte, à música, à realização pessoal, à espiritualidade… Isso foi precisamente o que exigia a geração de 68. Nos anos 50 e 60, o chamado Anos Dourados da economia, o terrível e aparentemente inevitável ciclo de expansão-recessão, tão devastador no período entre guerras, se converteu em uma sucessão de leves oscilações graças às políticas econômicas keynesianas e ao surgimento dos Estados de Bem-estar. Era hora de dar o salto e ir além do consumismo e do individualismo idiota e autocomplacente, era hora de criar uma sociedade igualitária e justa, na qual poder viver como seres humanos plenos e enfrentar, através da ação social e política coletiva, um mundo que, depois de duas guerras mundiais, parecia continuar empenhado, como ainda parece estar hoje, em empurrar a humanidade definitivamente para o abismo.

3. Massa crítica e princípio da esperança
mbora todos os pontos desse turbilhão que foram os anos 60, o Movimento dos Direitos Civis, de Liberdade de Expressão, o Movimento Antibélico, os movimentos anticolonialistas e anti-imperialistas, a insatisfação generalizada dos estudantes pelas estruturas universitárias rigidamente hierarquizadas, assim como por um currículo universitário ultrapassado e desatualizado; os novos estilos juvenis, sempre demonizados pela sociedade adulta… Mesmo que todos esses movimentos, digo, conservassem em 1968 a sua identidade isolada, chegados a este ponto, terminariam formando algo único transformado pelo crisol de uma nova geração que integra e cria, fusiona e faz ferver, contribuindo com a sua própria energia, a sua inocência e toda a força do seu otimismo.
Se houve algo realmente “diferente” em 1968, não foi tanto o volume que adquiriram as revoltas no mundo inteiro, inegavelmente algo sem precedentes na história, mas sim o fato de que esse volume não ficou em um mero crescimento numérico, dando lugar a um salto qualitativo real com a formação de uma massa crítica que permitisse acreditar que havia chegado o momento em que, final e definitivamente, seriam ganhas muitas batalhas atravessadas na garganta da história, algo que simplesmente já estava sucedendo e que ninguém seria capaz de parar. Havia chegado o momento, como gritava o vocalista do grupo MC5 no começo da sua canção Ramblin´Rose, em que o que faltava fazer era que todos e cada um se perguntasse: “eu vou ser parte do problema ou da solução?”.
4. Poesia depois de Auschwitz e utopia de demolição
Theodor W. Adorno, filosoficamente a cabeça mais potente da Escola de Frankfurt, chegou a afirmar que escrever poesia depois de Auschwitz era “uma expressão de barbárie”. Com “poesia”, Adorno não se referia à poesia como tal, claro está, mas sim à “contemplação autossuficiente”, um sistema cultural entregue mais uma vez a lindos floresceres, que servisse de coartada para dissipar o horror cotidiano, e tornasse o mais suportável possível uma realidade brutal.
A única cultura possível após Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki e 80 milhões de mortos em duas guerras mundiais em menos de meio século não podia continuar sendo uma cultura que cantasse em honra da majestosa figura do salgueiro caindo sobre o rio manso, nem uma cuja única preocupação, além de encher caixa, por descontado, fosse deixar passar as horas mortas com absurdas histórias em séries de televisão de comédia enlatadas (o que mais à frente Herbert Marcuse [4]), o filósofo estrela daquela geração, chamará de “o carácter afirmativo da cultura”). Teria de ser uma cultura que enfrentasse cara a cara todos aqueles monstros, que tratasse de entender o que e como tinham sendo invocados e os exorcizasse de uma vez por todas, propondo uma saída, outro mundo possível.
A geração de 68 oferecia, neste sentido, uma utopia negativa, uma cultura de demolição: “Quando no lugar de uma prisão queremos construir uma casa”, contestava Marcuse em um debate com os jovens revolucionários em Berlim, “é preciso começar efetivamente para derrubar a prisão. (…) Não é necessário já ter o plano exato do edifício novo para começar a derrubá-la” [5]. As pessoas de 68 faziam isso em todos os movimentos e em todos os níveis, o que lhes diferencia claramente das gerações posteriores, com pautas de protesto muito mais estreitas e de caráter mais prático. Não deixa de ter a sua graça que, 30 anos mais tarde, em um debate com jovens líderes de revoltas estudantis posteriores ao ano de 1968, não fosse Cohn-Bendit quem tratasse de defender a ideia de que, em 1968, os protestos transcendiam as pequenas reivindicações práticas. Pelo contrário, é ele quem trata de consolar o resto, dando argumentos para defender que esse tipo de reivindicações (“sem projeto político, sem a mínima crítica à sociedade”, reclamava um dos líderes estudantis presente) também tinha um grande valor [6].

5. Uma revolução falida, uma revolução pendente
“A revolução não será transmitida”, cantava convencido Gil Scott-Heron em 1970. Pobre ingênuo. A revolução foi transmitida pelos meios de comunicação… E em horário de máxima audiência, com modelos com dentes branquíssimos e abdominais perfeitos que, ainda por cima, anunciavam creme dental de brilhantes cores, uma nova conta bancária “jovem” ou tênis de esporte super chic. Você sabia que Do it (sem o just) era um lema dos anos 70, tão significativo daquele período que o líder dos Yippies, Jerry Rubin, chamou assim a primeira parte da sua biografia, na qual relata o assalto a Wall Street para lançar sacos cheios de notas de dólares aos “porcos” especuladores só para ver como ficavam loucos para conseguir pegá-los? Gess Who´s Comming to Wall Street foi o título irônico do seu artigo, um pouco mais de uma década depois, no NYT contando a sua decisão de começar a trabalhar ali de Broker. As voltas que a vida dá, né…
Marx pensava que o capitalismo terminaria caindo pelas suas próprias contradições internas. Nunca poderia ter imaginado que a sua maior força estava na sua incrível capacidade de adaptação… Be water, my friend. O capitalismo de consumo, um dos maiores inimigos da geração de 68, se adaptou, absorveu e transformou a sua própria lógica lemas, consignas e até ideias daquela época, convencendo as seguintes gerações de que vestir uma camiseta de 70 euros com a cara do Che, deixar as calças jeans de 150 um pouco caídas, ou usar uma viseira virada para trás de 50 era um autêntico ato revolucionário, algo que algum intelectual até tratou de defender [7]. Isso explica, por exemplo, algo tão paradoxo como quando os jovens são questionados sobre como se veem a si mesmos, as duas características que destacam no Relatório Jovens Espanhóis, já desde finais do século passado, sejam “consumidores” (isto é, perfeitamente adaptados tanto aos meios quanto aos fins da sociedade consumista) e, ao mesmo tempo, rebeldes… Impossível? Na sociedade consumista nada é impossível.
Esse é o legado de 68? Definitivamente não. Esse foi e continua sendo o seu antídoto. O seu legado é a diversidade de movimentos nos quais atualmente continuam lutando, contra tudo, por construir um mundo melhor, mais equitativo, mais justo, um mundo onde não sobre ninguém nem ninguém tenha que ser sacrificado como alimento para a sobrevivência dos demais. Neste sentido, 1968 não foi só uma gigantesca estação de chegada dos mais diversos movimentos sociais, mas também a estação de saída de novas sensibilidades, de novos interesses, consciências e identidades: os novos movimentos antibelicistas, o feminismo, os movimentos LGBT, o ecologismo, os animalistas… E não poucos deles, como demonstram as espetaculares concentrações do #MeeToo no planeta ou a recente marcha em Washington contra as armas, muitos jovens idealistas, como fizeram os seus avós, continuam e continuaram lutando.
O importante é que a ação ocorreu, em um momento em que todo o mundo pensava ser incabível. Se ocorreu uma vez, pode ocorrer novamente.

Juan M. González-Anleo
Sociólogo, psicólogo social, Especialista em Juventude (OJI)
Notas
- [1]
Hobsbawn, E. (2009), Historia del siglo XX. Barcelona, Crítica. p. 228.
- [2]
Bensaid, D. (2008), mayo, sí (caso no archivado). En Garí, M.; Pastor, J. y Romero, M. (eds.), 1968 El mundo pudo cambiar de base (pp. 39-58). Madrid, Los libros de la Catarata, p. 51.
- [3]
Cohn-Bendit, D. (1968), El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo. México, Ed. Grijalbo, p. 13 y 14.; Sartre, J. P. (1968). El miedo a la revolución. Les communistes ont peur de la révolution. Buenos Aires, ed. Proteo 1970, p. 20-21.
- [4]
Marcuse, H. (1967). Acerca del carácter afirmativo de la cultura. Buenos Aires, Biblioteca libre.
- [5]
Marcuse, H. (1986). El final de la Utopía. Barcelona, ed. Planeta-Agostini, p. 108.
- [6]
Cohn-Bendit, D. (1999), Sé joven y cierra el pico. Madrid, Taller de Mario Muchnik, 2000. p. 28.
- [7]
De Certeau, M. (1984): “Making do: Uses and tactics” en Lee, Martyn (2000). Consumer Reader, Blackwell Publishers, Oxford, 2000, p. 162-174.